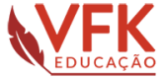“Postula a teoria kelseniana que o Direito descreve o seu objeto por meio de proposições normativas e se vale, para fins de causação jurídica, do princípio da imputação[1]. A imputação está para a norma jurídica e moral assim como a causalidade está para a norma natural. Logo, a lei natural ou moral é descritiva do “ser” enquanto a norma jurídica é descritiva do “dever ser”.
A norma jurídica pode ser atribuída tanto à realidade quanto à ficção, enquanto a norma natural só é suscetível de atribuição à realidade. Por via de consequência, a não constatação de uma lei natural leva, necessariamente, à sua reformulação, enquanto a violação de uma norma jurídica não altera seu vigor; muito pelo contrário, tende a reforçá-lo[2]. Ambas têm como espectro comum o princípio da causalidade, porém a norma jurídica é determinada com o ato de vontade. Ambas estão, portanto, sob o prisma pressuposto-consequência.
Outra diferença significativa é que a norma jurídica ou moral sempre está relacionada aos valores jurídicos, enquanto a norma natural está despida dos referidos valores (wertfrei). Por consequência, a lei natural enuncia e descreve um fato da natureza enquanto a norma jurídica ou moral descreve uma conduta ou um comportamento humano. Nesse sentido, ambas são descrições de caráter geral e ambas também resultam de um processo de conhecimento[3]. A imputação jurídica, bem como a causalidade, são a ocorrência de um juízo hipotético[4] no qual o pressuposto está ligado à consequência[5].
A lei natural, sujeita ao princípio da causalidade e relacionada ao ser, implica a descrição de um fato da natureza que ocorre, inexoravelmente, num sistema de constatação. Não é por outro motivo que qualquer lei física, como expressão neutra de um fato, cede diante de qualquer aspecto factual que venha contrariar seu enunciado[6]. Já a imputação jurídica, ou até de ordem moral, é aquela que estabelece um determinado resultado para uma determinada conduta[7].
Nessa linha de raciocínio, pode-se afirmar que a cópula que une as duas partes do juízo científico é o verbo “ser”, enquanto a palavra forte que vincula os dois elementos do juízo hipotético normativo é o verbo “dever ser”. É, de fato, esse “dever ser” que caracteriza a imputação designativa de uma relação normativa, sempre pautada por um fator humano que determina a consequência em caso de descumprimento[8]. Por outro lado, a causalidade descansa na noção de que toda causa concreta pressupõe como efeito uma outra causa, e todo efeito concreto tem como causa outro efeito, ou seja, um verdadeiro desencadeamento causal interminável nos dois sentidos.
Porém, enquanto na causalidade propriamente dita o número dos elos é ilimitado, na imputação existe uma finitude nos desencadeamentos, ou seja, há um ponto terminal na imputação. Sob tal perspectiva ontológica, não existe liberdade no que diz respeito às leis naturais na medida em que a toda causa é atribuído um efeito, sem que, por ficção, possa-se regrar de maneira diversa. O homem conhece, mas não domina, as leis naturais, na medida em que há um desencadeamento infinito pressuposto-consequência, fazendo parte da própria natureza. Sob o ponto de vista jurídico ou moral, entretanto, pode ser livre, na medida em que é responsável por sua conduta jurídica ou antijurídica, ou moral ou imoral[9].
Sob o ponto de vista das leis da natureza, nenhuma pessoa é livre se se considerar liberdade como a não sujeição à relação de causalidade, na medida em que tudo, inclusive as nossas vontades, pode ser reconduzido ao princípio causal que rege as leis da natureza. Mesmo a livre vontade de uma pessoa sã está sujeita a algum processo causal, ainda que não seja identificável à primeira vista.
Logo, não é a liberdade (isto é, a possibilidade de o sujeito se determinar de maneira autônoma) que torna possível a imputação jurídica. Ao contrário, é a determinabilidade causal da vontade que possibilita a imputação. É nesse sentido que se pode dizer que imputação e liberdade estão inerentemente entrelaçadas: o homem é livre justamente porque se lhe imputa algo; ou, ainda, é livre porque sua conduta é um ponto terminal da imputação, embora seja causalmente determinada[10].
Nada disso significa, contudo, que não haja limitações ao que pode ser prescrito por uma norma. Uma norma, que ignorasse completamente a delimitação ontológica dos fatos a serem regrados, seria inócua[11]. Assim, careceria de sentido uma norma que proibisse ao ser humano, por exemplo, morrer, ou contrair qualquer doença, ou envelhecer, ou ter inteligência abaixo de determinado nível. Daí que se possa dizer que “precisamente por falta desta possibilidade de eficácia causal é que ela é destituída de sentido como norma”[12].
Sob o ponto de vista das normas legais ou morais, ou seja, sob o ponto de vista da imputação, o sujeito é livre não só pela finitude inerente ao sistema de imputação, mas também porque é responsabilizado por sua conduta. Tal responsabilidade está ligada de forma umbilical à noção de retribuição (Vergeltung), ou seja, à imputação da recompensa ao mérito, do arrependimento ao pecado e da pena ao ilícito.
A norma, entretanto, não reproduz, nem altera, a natureza ontológica da realidade. Logo, o amental, independentemente do que diga a lei, continua amental, pois carece de consciência do seu querer, e, portanto, é ontologicamente despido completamente de liberdade, devendo ser inimputável tanto sob o ponto de vista jurídico, como sob o ponto de vista moral.
A liberdade, sob o ponto de vista das leis da natureza, seria não se sujeitar ao efeito de uma determinada causa, o que é impossível no mundo do ser. Como já dito, tanto o sujeito capaz (entenda-se capaz como aquele com total ou parcial cognoscibilidade e autodeterminação), quanto o sujeito incapaz (leia-se totalmente despido de cognoscibilidade e autodeterminação), ambos sob a incidência das leis da natureza, não gozam de liberdade, muito embora os capazes tenham certa previsibilidade sobre boa parte dos atos da natureza, o que obviamente faz com que muitas concausalidades não repercutam em suas esferas pessoais[13].
Já sob a ordem moral e jurídica, o direito pode trabalhar tanto com realidade quanto com ficção. A noção de liberdade que impregna nosso ordenamento jurídico exige a consciência do efeito e a submissão a ele – verdadeira liberdade –, ou que pelo menos se conheça o efeito, embora não se queira sua ocorrência. Em ambos os casos o elemento volitivo avaliativo é indispensável, de sorte que o amental, ainda sob a perspectiva jurídica, não é livre. Essa constatação, embora não se refira a uma condição sine qua non de validade da norma (na medida em que, de acordo com a teoria kelseniana, a determinabilidade causal, e não a liberdade, é o fundamento da imputação), é relevante como diretriz essencial do ato de vontade que põe a norma.
As prescrições normativas que se referem aos deficientes mentais de fato evidenciam essa diretriz. Assim o amental pode, sob o ponto de vista penal, praticar um fato típico e antijurídico (causa), mas tem que ser isento de pena (efeito). Pratica então uma conduta reprovável (crime), mas se sujeita a uma medida de segurança[14].
Tanto é verdade essa assertiva que a sentença tem que reconhecer o fato antijurídico típico, mas excluir completamente a culpabilidade, na medida em que não há imputabilidade penal. Não há imputabilidade jurídica, na medida em que o sujeito amental não pratica uma causa ontologicamente fundamental (independentemente da teoria penal adotada, se colocar o dolo e a culpa na primeira fase da teoria do crime), mas pratica uma causa necessária, de ordem técnica e fenomenológica para a atribuição de medida de segurança.
Aqui é bom mencionar que existe uma conduta fenomenologicamente relevante por parte do sujeito amental, porém, por total ausência de liberdade e autodeterminação não há a imputabilidade dos efeitos jurídicos penais para o referido sujeito.
Sob o ponto de vista moral, o amental está liberto do pecado. Assim como o direito, a moral trabalha da mesma forma, de sorte que o amental não é capaz de pecar. Ainda que pratique uma conduta eticamente reprovável, não pode sofrer nenhum castigo externo ou mesmo não terá senso de culpa na medida em que não há querer. Portanto, não lhe é atribuído o estigma do pecado[15]. O sujeito despido de consciência pratica condutas eticamente reprováveis; porém, não tendo liberdade no seu agir, não se submete à retribuição (Vergeltung).
Mesmo sob uma ótica existencialista niilista, segundo a qual liberdade é uma negação valorativa por meio da qual a consciência apreende seus objetos, porém sem ser dominada ou determinada por estes[16], não se pode afirmar que o amental seja factualmente livre. A noção de liberdade não pressupõe que o homem, por ser a medida de todas as coisas, possa fazer o que bem entender, nem muito menos que possa se desvincular dos efeitos da lei da natureza e dos da norma jurídica e moral.
O existencialismo puro, apesar de utópico, entende perfeitamente que no mundo do “ser” o homem está sempre sujeito aos efeitos das leis da natureza e às relações de causa e efeito. Isso significa que o homem não tem o poder de sair na chuva e não se molhar; o homem não é livre a ponto de estar na chuva seco, já que a sua vontade não é determinativa das regras naturais.
Ao estar na chuva – entenda-se: sem qualquer objeto que o ampare da precipitação –, certamente ficará molhado. O sujeito sofrerá os efeitos da causalidade tendo ou não consciência disso, com a diferença de que, neste último caso, não terá uma apreensão suficientemente desenvolvida da realidade que lhe permita evitá-los.
Voltando ao viés jurídico-moral: na acepção kelseniana de liberdade, o sujeito só é livre por ser o ponto terminal de uma cadeia de imputações, e o ato de vontade que determina essa liberdade pressupõe a ciência dos efeitos decorrentes da causa. Na medida em que o sujeito saiba que, casando-se, assumirá as obrigações decorrentes do casamento – tais como a fidelidade, a vida em comum e a mútua assistência[17] –, só será efetivamente livre na medida em que cumpra tais deveres[18].
Essa é a melhor acepção da liberdade, isto é, ter consciência de que uma causa implica um efeito necessário e sujeitar-se aos efeitos correspondentes, na medida em que a função do sistema normativo é exatamente a de induzir os sujeitos ao cumprimento das condutas prescritas pelo ordenamento jurídico. Menos pura é a do sujeito que, diante de uma causa, infringe a regra jurídica, mas ainda assim se sujeita aos efeitos punitivos, como no caso do sujeito que não presta mútua assistência e se submete à dissolução do casamento e eventual dano moral.
O homem só pode ser responsável por sua conduta se for livre tiver consciência dessa liberdade. Observe-se que, em nenhum dos dois casos, o sujeito deixou de ter consciência dos efeitos diante da causa volitiva operada. Em nenhum dos dois casos o titular realizou uma causa e quis ou entendeu possível ficar imune aos efeitos.
No caso do amental (tal como o sujeito que está em coma ou sofre de mal de Alzheimer avançado), os poucos casos em que o direito admite uma relação de imputação diante de uma determinada conduta ou comportamento constituem uma espécie de ultima ratio decorrente de um juízo de ponderação do legislador. É o caso do incapaz subsidiariamente responsável por indenizar terceiro apenas por ter o poder econômico que o seu representante não possui[19].
Outro aspecto relevante da questão referente ao amental diz respeito à própria noção de relação jurídica, entendida como a vinculação entre sujeitos jurídicos que envolve deveres (Pflichten) e direitos (Berechtigungen) correspectivos entre as partes. Entre direito e dever há uma correspondência, ou seja, um é o reflexo jurídico do outro.
A relação jurídica é uma relação complexa, já que além dos vínculos entre sujeitos jurídicos, ou seja, entre sujeito obrigado e titular de direitos, há também relações jurídicas privadas e públicas estabelecidas entre o criador e o aplicador da norma. Nas relações jurídicas privadas, na medida em que um dos sujeitos tem um direito, há a imposição de que o outro se conduza em conformidade com a conduta determinativa do direito do primeiro. Em outras palavras, ao direito de um corresponde idêntico dever reflexo do outro.
O sujeito de direito (Rechts-Subjekt) é o titular tanto de um dever quanto de um poder jurídico. É, portanto, sujeito de pretensões jurídicas (Berechtigungen) com o correspondente dever jurídico[20]. Essa ilação foi extraída da pandectística alemã, que concebia o direito como liberdade e conceituava abstratamente a liberdade como a possibilidade de alguém se determinar para algo, pelo fato de ter uma vontade e de esta ser livre[21].
Há uma contraposição e dualidade entre o direito subjetivo (Berechtigung) e o direito objetivo, ou seja, uma norma heterônoma vinculante e coativa. Nessa ordem de raciocínio, só há autodeterminação na compreensão do alcance da incidência do vínculo jurídico. A autonomia é sempre limitada na medida em que ela é ou implica em uma ordem jurídica estabelecida ou pré-estabelecida. O sujeito de direito é, em certa medida, o portador do direito subjetivo, mas sua conduta só será lícita se em consonância com o direito objetivo.
Tanto a pessoa física quanto a jurídica são construções artificiais da ciência jurídica, já que ambas são pessoas enquanto portadoras de direitos e deveres jurídicos, tendo por pressuposto a personalidade, base fundamental para atribuição de capacidade ou aptidão para ser pessoa (Rechtsperson). Trata-se de construção jurídica que considera pessoa física não o indivíduo, mas uma unidade personificada de normas que confere poderes e obrigações ao indivíduo.
Várias são as teorias que procuram conciliar o direito objetivo e o direito subjetivo. As duas teorias historicamente mais relevantes são a teoria da vontade (de acordo com qual o direito subjetivo é o poder da vontade juridicamente reconhecido)[22] e a teoria do interesse (cujo postulado descansa na noção de interesse tutelado juridicamente)[23].
A primeira, que nasce entre os séculos XVII e XVIII, postula a existência de um âmbito no qual o indivíduo, em função de direitos naturais inalienáveis, é livre de qualquer intromissão externa, principalmente da intervenção estatal. Já a segunda, que desponta no século XIX, esvazia o elemento subjetivo da vontade individual e reduz o direito subjetivo a um mero interesse juridicamente protegido, enfatizando assim o primado do direito objetivo, consubstanciado na concessão de uma ação judicial ao titular do direito subjetivo violado.
Na primeira teoria, o Estado está “naturalmente” alijado da esfera privada. Na segunda, o Estado expressamente cria e delimita essa mesma esfera[24]. Sob qualquer prisma, há a atribuição de um poder, competência ou autorização (Ermächtigung) ao titular do direito subjetivo[25]”.
Fonte: KÜMPEL, Vitor Frederico et. al., Tratado Notarial e Registral vol. II, 1ª ed, São Paulo: YK Editora, 2017, p. 66/71.
[1] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, p. 119.
[2] O fenômeno já era conhecido na literatura jusfilosófica oitocentista, cf. A. Rosmini-Serbati, Filosofia del diritto, vol. I, 2ª ed., Intra, Paolo Bertolotti, 1865, p. 126: “Quando la forza brutta oprime l’uomo che ha per sè il diritto, allora questi eccita um interesse straordinario di sè negli altri uomini: il suo diritto pare che brilli da quel momento di uno splendore insolito (…).
[3] L. Streck, Hermenêutica Jurídica em Crise, 11ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2014, p. 126. Essa constatação, no que diz respeito às normas jurídicas, somente é possível mediante a cisão, no âmbito interpretativo, que o juspositivismo kelseniano faz entre direito e ciência do direito.
[4] M. Reale, Filosofia do Direito, 19ª ed., São Paulo, Saraiva, 1999, p. 59. Juízo, na acepção aqui adotada, significa o conectivo lógico que atribui um predicado a uma coisa, aquilo que M. Reale denomina “molécula de conhecimento”.
[5] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, p. 126.
[6] M. Reale, Lições Preliminares de Direito, 27ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 28.
[7] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, p. 137.
[8] N. Bobbio, Teoria della norma giuridica, Torino, Giappichelli, 1993, trad. port. F. P. Baptista – A. B. Sudatti, Teoria da Norma Jurídica, 3ª ed., Bauru, Edipro, 2005, pp. 137-138.
[9] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, p. 139.
[10] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, pp. 139-140.
[11] Tércio Sampaio Ferraz Jr., Introdução ao Estado do Direito, 6ª ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 320. Estamos, evidentemente, referindo-nos aos limites da imputação amplamente reconhecidos pelo positivismo.
[12] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, p. 140.
[13] Mesmo nos escritos de I. Kant, é possível perceber uma tensão entre liberdade moral e determinismo causal, cf. J. Johnson – A. Cureton, s.v. Kant’s Moral Philosophy, in E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), disponível in http://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=kant-moral [18-10-2016]: “Kant’s analysis of the common moral concepts of “duty” and “good will” led him to believe that we are free and autonomous as long as morality, itself, is not an illusion. Yet in the Critique of Pure Reason, Kant also tried to show that every event has a cause. Kant recognized that there seems to be a deep tension between these two claims: If causal determinism is true then, it seems, we cannot have the kind of freedom that morality presupposes, which is “a kind of causality” that “can be active, independently of alien causes determining it”.
[14] Art. 26 do Código Penal Brasileiro: “É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.
[15] Acerca do tema, cf. R. Sada – A. Monroy, Curso de Teología Moral, trad. port. de J. C. de Brito, Curso de Teologia Moral, 3ª ed., Lisboa, Rei dos Livros, 1989, pp. 59-69. De fato, a teologia moral assume que o grau de consciência seja proporcional ao progresso da inteligência no sujeito. Como a consciência, entendida como o conhecimento íntimo que o homem tem de si e de seus atos, é requisito para o pecado, não é pecado agir com consciência invencivelmente errônea, e muito menos seria pecado agir sem qualquer consciência.
[16] S. Crowell, s.v. Existentialism, in E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition), disponível in http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/existentialism/ [23-10-2016]: “(…) freedom is the dislocation of consciousness from its object, the fundamental “nihilation” or negation by means of which consciousness can grasp its object without losing itself in it: to be conscious of something is to be conscious of not being it, a “not” that arises in the very structure of consciousness as being for-itself. Because “nothingness” (or nihilation) is just what consciousness is, there can be no objects in consciousness, but only objects for consciousness”.
[17] Art. 1.556, incs. I a IV do CC/2002.
[18] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, p. 142.
[19] Art. 928 do CC/2002.
[20] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, pp. 188-189.
[21] Cf. G. F. Puchta, Pandekten, 3ª ed., Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1843, pp. 42 e ss.
[22] B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, vol. III, 9ª ed., Frankfurt, Rütten und Loening, 1906, p. 156 e F. C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, vol. I, Berlin, Veit, 1840, pp. 7-8.
[23] R. von Jhering, Geist des römischen Rechts, vol. III, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1865, pp. 339 e ss.
[24] G. Alpa, Manuale de diritto privato, 7ª ed., Padova, CEDAM, 2011, pp. 140-142.
[25] H. Kelsen, Reine Rechtslehre, trad. Port. De J. BAPTISTA MACHADO, Teoria Pura do Direito, 6ª ed., Coimbra, Armenio Amado, 1984, p. 208.